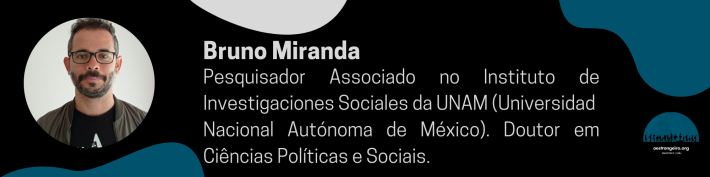Sou um professor e pesquisador brasileiro radicado na Cidade do México há 16 anos, trabalho na Universidad Nacional Autónoma de México, a UNAM, onde desenvolvo um projeto pedagógico e projetos de pesquisa com estudantes de antropologia, sociologia, relações internacionais, de graduação e pós-graduação. Juntamente com jovens periféricos, descendentes de braceros mexicanos, indígenas urbanos, mulheres que descobrem suas afinidades com o movimento chicano, em especial com os textos e os lugares de enunciação de Gloria Anzaldúa, decidi apostar em ferramentas com as quais eles e elas pudessem explorar os lugares sociais que ocupam com a intenção de produzir escrituras situadas. Desenvolvo etnografias e através delas eu, como autor, me aproximo da literatura, porque nas Ciências Sociais também traduzimos mundos.
Faço trabalho de campo nas fronteiras do México com a Guatemala e do México com os Estados Unidos. Documento o trânsito migrante, que nos últimos anos tem cada vez mais derivado em instalações temporárias, especialmente de pessoas e famílias venezuelanas e haitianas, mas também de outras nacionalidades cujo périplo é ainda maior. São pessoas que partem de várias regiões da África e de boa parte do sul da Ásia: os mal chamados migrantes “extracontinentais” ou “extrarregionais”.
Diante de tanta violência antimigrante no México, exercida por agentes migratórios, policiais e inclusive agentes do narcotráfico e diante das condições e circunstâncias superprecarizadas nas quais encontramos muitas vezes interlocutores em campo, vários colegas “migrólogxs” passamos a indagar, talvez mais urgentemente, sobre o extrativismo académico, ou seja, beneficiar-se através de livros e artigos que retratam experiências e trajetórias (nosso “material de campo”) lançando mão de determinadas técnicas que muitas vezes abrem, mas não ajudam a cicatrizar feridas e traumas. Daí a necessidade de pensar formas mais colaborativas, menos desiguais em campo e durante a relação que permanece depois do campo e que se transforma eventualmente em companhia, amizade e parceria.
Para dar conta dos mecanismos de controle migratório que muitas vezes geram as violências, passei também a considerar os espaços fronteiriços e as relações entre pessoas em situação de mobilidade com outros atores sociais que compõem as paisagens fronteiriças no México: moradores locais, agentes estatais, militares, donos de pousadas, coiotes. Particularmente, tenho me interessado em indagar sobre como essas pessoas, enquanto convivem e coexistem, constroem o espaço e o território fronteiriço.
No México, eu venho de realizar trabalhos de campo consecutivos em Tapachula na fronteira sul do México, em Ciudad Juárez e Tijuana que fazem divisa com os EUA, ou como dizemos no México, el gabacho. Ser homem e brasileiro em campo, por cima da minha branquitude, em lugares aparentemente sem nenhuma conexão com o Brasil, acabou abrindo possibilidades de acompanhar homens africanos negros da Angola, do Senegal, de Guiné-Conacri, do Congo, da Somália, assim como homens asiáticos do Bangladesh, do Paquistão e do Afeganistão.
Grande parte deles pode se comunicar em português porque trabalharam em cidades brasileiras por vários anos em nichos econômicos específicos, como a indústria de carne halal em Santa Catarina ou na construção civil em São Paulo e no Rio de Janeiro. Veio a alta da taxa de desemprego em 2015, veio o golpe contra a Dilma em 2016, veio Bolsonaro…e eles foram embora! Aproveitaram que já tinham cruzado o oceano Atlântico e decidiram cruzar as fronteiras sulamericanas e mesoamericanas rumo ao Norte global.
Mas pessoas em situação de mobilidade migratória não se movem o tempo todo, menos depois de Donald Trump, menos depois da externalização do controle migratório e da militarização das fronteiras dos EUA ao México. As cidades fronteiriças mexicanas foram se transformando em prisões a céu aberto ao longo do último quinquênio. Nelas, pessoas de mais de cem nacionalidades do Sul global, são obrigadas a esperar: por documentos que permitam o trânsito, por documentos de refúgio, por mais dinheiro para seguir a viagem e às vezes esperam até por pessoas que se transformaram em amigas enquanto caminhavam pelas trochas colombianas ou entre os acampamentos na selva do Darién panamenho, como Bajo Chiquito e Lajas Blancas. Na cidade mexicana de Tapachula, no estado de Chiapas, os anúncios nos banheiros públicos estão em kreyol haitiano, há restaurantes haitianos especializados em cozinhar “comida africana”, as instruções para hospedes nos hotéis estão traduzidas ao inglês, ao russo, ao chinês, inclusive ao usbeque.


VINHETA ETNOGRÁFICA – TAPACHULA, MÉXICO, MARZO DE 2022
Caminhávamos entre as barracas de roupa e alimentos do comércio de rua informal costumeiro da cidade. Havíamos nos conhecido uns dias antes, numa longa fila em frente de um dos locais de atendimento do Instituto Nacional de Migração. Naveed é um homem paquistanês, nascido e criado em Faisalabad, na região do Punjabi, perto da fronteira com a Índia. Tínhamos acabado de comer comida chinesa no mercado Sebastián Escobar porque, como a maioria dos membros do seu grupo, ele tampouco havia se acostumado com a comida chiapaneca. Vamos lado a lado, conversando livremente, quando de repente e com um sorriso que expressava familiaridade, cumprimentou uma mulher haitiana que estava sentada vendendo legumes, tubérculos e produtos cosméticos debaixo de um guarda-sol.
−“Opa!”, se disseram um ao outro.
Ele e ela se encontraram em Tapachula, mas já se conheciam do Brasil. Os dois trabalhavam lado a lado no comércio de rua informal do Brás, no centro de São Paulo: ela vendendo peças de roupa produzidas no Brasil e ele vendendo batas masculinas do Paquistão. Ela tinha se instalado na cidade de Tapachula e seus clientes eram precisamente todas aquelas pessoas que esperavam antes de poder cruzar o território mexicano, como o próprio Naveed. A instalação de polos da diáspora haitiana nas regiões de fronteira do México, ao norte e ao sul, tem de fato servido como suporte para outras mobilidades. O estado de saúde (físico e mental) do Naveed estava comprometido depois de tanto caminhar e viajar e no final das contas, decidiu tomar um voo de volta a São Paulo. Fim da vinheta.
As primeiras caravanas migrantes centroamericanas foram contemporâneas da instalação forçada, no México, dos “migrantes do outro mundo”, como se refere a jornalista colombiana Maria Teresa Ronderos aos migrantes africanos e asiáticos em trânsito pela América Latina e Caribe, a Nossa América. A partir daí, as caravanas passaram a ser comunidades não só moveis, mas também multidiversas. Tanto as caravanas como a cidade de onde elas geralmente partem no México, Tapachula, dão lugar a jovens somalis que escapam de grupos terroristas como Al-Shabaab, mulheres de hijabe e suas filhas, sobrinhas e netas, todas fugadas do Talibã e que tocaram nosso continente pelo aeroporto de Guarulhos, jovens de países muçulmanos que frequentam uma mesquita improvisada na cidade, chamada Ghana House. Tapachula é Lampedusa, mas também pode trocar de pele e ser Necoclí, na Colômbia. Existem túneis secretos que conectam os acampamentos de Lesbos na Grécia ao Darién panamenho, passando por cidades brasileiras, debaixo dos nossos pés.

Como dar parte, (com)partilhar, através do texto etnográfico, todas as possibilidades de espaços tão diversos e complexos? Como traduzimos, qual é a operação de tradução necessária para contar sobre estes mundos que são ao mesmo tempo laboratório de novas medidas de controle e de regulação migratória, e também são cenário da aceleração de diásporas previamente existentes, como a haitiana, a congolesa, a bengali e de novas diásporas, como a venezuelana? São Paulo, Chapecó e Tapachula, cidades enlaçadas diaspoticamente num intercambio de afetos e economias, com cidades aparentemente desconexas: Conakry, Daca, Cabul, Adis Abeba. Como dar parte, compartilhar, a substância e os efeitos dos enlaçamentos entre cidades do Sul do mundo?
A adoção de perspectivas translocais, à escala de cidade, tem ao menos ajudado a visualizar os corredores migratórios ampliados e os nós espaciais que dão forma a esses corredores, assim como asfunções e os significados de certas localidades. Tapachula, o golfo do Urabá colombiano e o conjunto de acampamentos no Darién estão para os corredores americanos, assim como Agadez no Níger e o Morro do Gurugú no Marrocos estão para os corredores euro-africanos pelo deserto do Saara. Mais que simples localidades, são territórios de cruzamentos e atravessamentos, são encruzilhadas globais, espaços construídos em grande medida pelo movimento, pela mobilidade humana, em constante embate com os exercícios de controle estatais, militares e a lógica de gestão das agências humanitárias internacionais.
Traduzir mundos implica tirar do anonimato, tirar das sombras o que ainda não foi narrado nem descrito. Ao narrar mundos, contar e compartilhar histórias com nossos pares, professores, estudantes e as comunidades ao redor dos nossos projetos de extensão, em contextos de migração e refúgio, somos chamados a considerar “as possibilidades políticas e estéticas dos processos de diversidade e diferença”. Este é o convite da poeta e tradutora equatoriana Cristina Salazar ao alertar-nos sobre os perigos do nacional-sedentarismo. Outro convite é muito mais próximo. Me refiro ao convite dos e das diaspóticas que organizaram o XI Fórum das Migrações na UFRJ a questionar as ausências e descontinuidades em contextos migratórios e no seu lugar, privilegiar as permanências dos laços identitários e políticos.
Quero juntar os dois convites num terceiro: demos conta dos encontros e desencontros entre as diversidades e as diferenças, consideremos todos os enlaçamentos digitais, mas sem deixar de lado os processos sociais que se dão em movimento, ou que são possíveis graças às mobilidades!
Nas ruas do centro de Tapachula, Naveed tinha de certa forma se apropriado do e paço público, mantinha interações com comerciantes locais e com vendedores haitianos. A reprodução da vida em espera o levava a uma rotina diária pelos mesmos lugares. Isto nos informa sobre o reconhecimento da cidade por seus habitantes temporários. Pensar nossas cidades, e nossas cidades de fronteira, a partir do movimento e das mobilidades, não necessariamente a partir dos sedentarismos, nos dá, portanto, outras possibilidades de entendimento sobre o que significa, por exemplo, residência e hábitat.
O que estamos perdendo ou deixando de narrar sobre as migrações e as experiências de mobilidade e refúgio no Sul do mundo por continuar presos aos sedentarismos?
Pensar em perspectiva de mobilidade ainda vai nos levar longe!